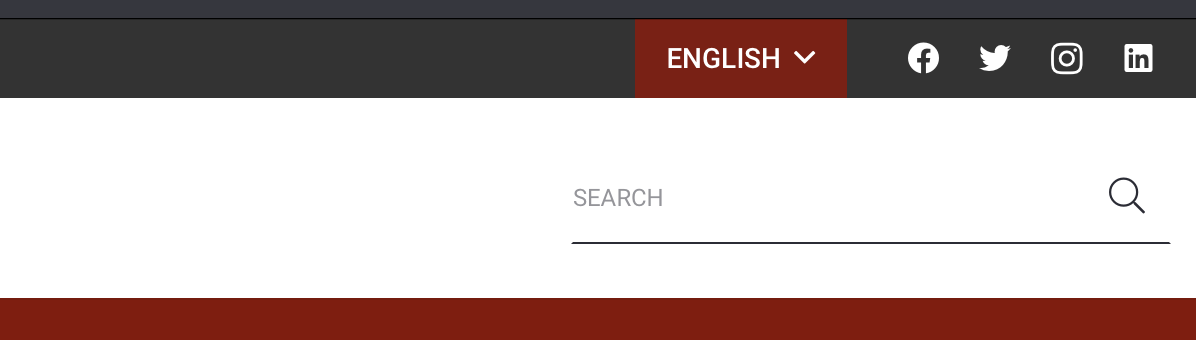Introdução
Um direito qualificado como humano, ou – rectius – a categoria dos direitos humanos é um desafio tanto à jurisprudência quanto à filosofia que atravessa a vida humana de forma transversal. Mesmo em um passado profundo, na era clássica, muitos consideraram como um ser humano como tal é digno de proteção: não apenas de proteção de seus bens, de sua propriedade, de usurpações externas, mas digno de proteger sua integridade (física e moral), sua vida, sua autodeterminação, tanto por outros pares quanto pela ação do Estado, que está longe de ser sempre legítima. A livre determinação do pensamento e a disponibilidade do próprio corpo são as categorias mais altas nas quais o conceito de direitos humanos pode ser incluído. A mutilação genital feminina é um assunto complexo, e a complexidade requer abordagens diferentes. Em primeiro lugar, uma ideia clara do direito em seu sentido mais profundo, o da religião, os de conceitos como universalidade e coerência da norma e, acima de tudo, o da pessoa. Esses conceitos estão todos muito presentes nas conversas cotidianas, na produção jurisprudencial, na mentalidade contemporânea e nas declarações e compromissos assumidos a nível internacional por vários e importantes atores no cenário mundial. No entanto, o mundo está longe dessa unificação de normas e de sua aplicação uniforme. Os advogados têm o claro dever de apontar essa lacuna. Vários Estados reconheceram seu dever de intervir e assumiram compromissos assinando declarações específicas. O mundo não precisa de mais proclamações, mas de uma proteção real e uniforme dos direitos humanos.
Direito humano, direito divino?
É particularmente importante ressaltar que o tema dos direitos humanos não diz respeito apenas à lei de uma religião ou de indivíduos, ou de sistemas jurídicos singulares em nível estadual. Os direitos humanos são uma questão que tem aparecido muito tardiamente no pensamento jurídico: tem se mostrado à atenção dos juristas já na modernidade. No entanto, está presente – em sua natureza e funções – desde as profundezas da história, dado que em sua concepção filosófica os direitos humanos apareceram e atraíram a atenção de pensadores muito antes da modernidade. O conceito também não foi expresso nas profundezas do pensamento jurídico, porque (esse talvez seja o único caso possível) leva à questão por excelência, a questão das questões. Existe lei já uma vez que o indivíduo existe, ou a lei só existe se for sistematizada, ou seja, uma vez que é reconhecida por um sistema jurídico, definindo assim uma relação entre vários indivíduos e um sistema de direito? A lei é um produto da história, como uma certa concepção materialista pretendeu ensinar, ou a transcende? Precisa de legitimidade?
No oeste
É comumente aceito que “ubi societas, ibi jus”. Sempre foi um mote quase introdutório à realidade jurídica, uma marca inquestionável, uma concepção típica que se origina na antiguidade da doutrina jurídica ou, rectius, nas bases de sua concepção analítica. Santillana disse que a hermenêutica, portanto a interpretação, não é fruto do conhecimento, mas a busca pela “última e mais colorida árvore no jardim do conhecimento”. O que entendemos então se formos interpretar o lema em sua raiz mais profunda?
No Ocidente, o direito nasceu como funcional para a relação entre indivíduos e coisas, o que em uma perspectiva civil moderna poderíamos definir como bens. A experiência jurídica ocidental começou a proteger as relações, especialmente as econômicas. Os primeiros direitos foram concebidos se in rem, portanto relacionados a uma res, justamente a uma coisa com valor econômico.
O objeto do direito era, portanto, como mencionado, a proteção da propriedade (incluindo, é claro, a coletiva) que se tornou, sempre que possível, objeto de maior proteção, a dos Deuses. Todos nos lembramos de que Júpiter era o guardião das alianças, e não é por acaso que falamos da santidade dos contratos. Em suma, a presença do divino interveio para proteger a palavra dada e as riquezas que foram transferidas, mas também sugeriu a correspondência da ordem jurídica a algo não apenas humano, mas superior: a ordem divina. Voltaremos a este ponto, aparentemente distante, que, em vez disso, diz respeito muito de perto aos direitos humanos.
O direito evoluiu e evoluiu de acordo com o desenvolvimento das sociedades, das sensibilidades das pessoas que as constituíram, da concepção filosófica da existência e do ter que os diferentes povos aceitaram e produziram no devir histórico. O conceito de direitos humanos, por outro lado, parece ser tardio. Filosoficamente, especialmente no ambiente grego clássico, havia de fato um respeito pela pessoa como tal. Aristóteles falou disso na Ética a Nicômaco, mas em um contexto – o da Grécia clássica – no qual, na realidade, não existia um conceito sistemático de direito. Na verdade, Aristóteles fala do politicamente correto, e não tecnicamente do direito.
No pensamento religioso cristão, que compartilha muito com o pensamento islâmico, a ideia de lei vinda da natureza como uma ordem constituída por Deus é forte em Tomás de Aquino, naquele período erroneamente definido “Idade Média” em que tanto foi elaborado. A posição de Tomé é lúcida e clara, e ele capta muito do cristianismo, mas também desses conceitos jurídicos (em primeiro lugar o da própria lei). Nele, os direitos são princípios, são éticos por natureza e são, sobretudo, “generalissimi”. Curiosamente, esta é uma referência a uma lei que descarta o formalismo e a especificidade, a uma lei que não se refere a uma norma feita pelo homem, mas apenas percebida por este último como existente na ordem estruturada por Deus. É um conceito geral que transcende e não precisa nem da autoridade política que o formaliza nem da pena do jurista que o elabora. Os direitos sempre existiram e não são gerados, mas reconhecidos. É um salto importante, talvez o salto que traz o reconhecimento dos direitos humanos.
Como mencionado acima, é apenas a modernidade que traz à existência os direitos considerados “humanos”, ou seja, aqueles direitos existentes porque um ser humano é per se seu titular. Esse seria o fim da concepção do direito como a regulação de uma relação entre coisas ou pessoas: não apenas ubi societas, mas até ubi homo, ibi jus: a lei existe uma vez que um único homem existe.
E a chave para o reconhecimento dos direitos humanos está no direito natural de Tomás, no direito natural: é nessa concepção que se abrem as portas para o reconhecimento do direito humano no sentido técnico e nos ordenamentos jurídicos com ferramentas modernas. O direito atravessa as fronteiras dos sistemas jurídicos únicos e algo comum, ou – melhor dizendo – universal, é reconhecido: o direito internacional nasce, o jus gentium no sentido moderno, e isso leva a se perguntar que fontes ele reconhece, uma fonte que só pode ser comum a todos. Alguns desses direitos, então, são conhecidos como inalienáveis e naturais, e encontram sua formulação durante o Iluminismo.
Esse processo levaria finalmente a reconhecer os direitos humanos no sentido técnico, como uma norma real (jus cogens).
A lei humana existe e existe porque um ser humano está lá. A humanidade reconhece, primeiro vê, depois formaliza.
No oriente,
O Islã é um sistema legal. Toda a criação está sujeita a Deus, é ideado o Islã, que é a submissão às Suas leis. A norma religiosa, a sharia, é aquele comportamento devido pela humanidade para que ela possa ser muçulmana, que é uma parte coerente e integral da ordem divina. Isso nos ajuda a entender pelo menos duas coisas, ambas de importância fundamental: a primeira é que no Islã o único legislador é Deus, a segunda é que o homem tem a mera função de interpretar a lei.
O Islã se expandiu para diferentes territórios, trazendo consigo a necessidade de tornar a multidão um unicum. Essa singularidade é reconhecida na atitude islâmica de reconhecer uma única ordem de coisas, uma única lei e conformar a ação de todos à vontade divina.
O texto de referência é, é claro, o Alcorão, que algumas escolas de pensamento até consideram inseparável do próprio Deus. Um texto de referência que não deve ser contraditório, não superável. Uma fonte de direito apical e insuperável, à qual – portanto – todas as outras fontes ou normas subordinadas devem obedecer. Seria absurdo tentar sintetizar em um único artigo a riquíssima história do pensamento jurídico islâmico, a luta pelas fontes e sua validade, e a legitimidade para liderar o povo islâmico e padronizá-lo sob uma única lei. É necessário, no entanto, chamar a atenção para como a lei islâmica elaborou sua terminologia para designar uma fonte específica de sua lei, lida em dois significados distintos: é o conceito de “tradição”, que na linguagem jurídica islâmica em árabe é traduzido com Sunnah.
Mutilação genital feminina: não é uma instituição legal islâmica
No início da história islâmica (por volta do ano 200 da Hégira, ou dois séculos após o início da pregação de Maomé), a Comunidade Islâmica começa a escrever anedotas que remontam à vida do próprio Profeta. Esses seriam mais uma fonte de inspiração para os muçulmanos, ajudando-os – seguindo o exemplo infalível do Profeta e seus primeiros companheiros – a levar uma vida melhor e a preencher as lacunas que, devido à sua imperfeição humana, não lhes permitem entender a integridade do Alcorão e abstrair o caminho certo a seguir em todas as ocasiões da vida. Uma série de estudiosos certificará se e em que nível cada hadith (este é o nome da história) é autêntico e pode ser referido. Esse mecanismo é fundamental na concepção da lei do modo islâmico, sua recepção dos direitos humanos e a questão da mutilação genital feminina.
Na verdade, quando o Islã se expande, ele se choca com uma série de tradições, ou seja, a cultura e as identidades dos convertidos. O Islã encontra um mundo já muito rico em tradição. Aí vem a diferente interpretação do direito feita pelos diferentes doutores do direito, chamados a elaborar um juízo de legitimidade sobre os costumes encontrados em todo o entorno dos territórios recém-descobertos: os resultados advindos de sua interpretação são surpreendentemente diferentes.
Quando o Islã encontra a África, em algumas de suas terras a mutilação genital já está lá. Não há nenhuma evidência ou pista que nos leve a acreditar que a mutilação genital feminina foi gerada pelo Islã, mas sim que os muçulmanos descobriram que o hábito e os novos convertidos continuaram a usá-lo. Isso, com o tempo, acabou sendo consolidado e percebido como um hábito islâmico. No final, a antiga lei, que também é sunnah (como tradição) e a nova lei ficaram confusas e deram aos observadores a ideia de que estavam simplesmente seguindo a lei islâmica, sem discernir uma fonte da outra, e os hábitos pré-islâmicos dos islâmicos.
A base legal que deve garantir a conformidade da mutilação genital feminina à norma islâmica é um hadith, um daqueles que não foram considerados autênticos, que convida aqueles que intervêm na mulher a fazê-lo “gentilmente” porque isso tornaria o rosto da mulher mais radiante. Uma outra nota linguística é importante a este respeito: a circuncisão é chamada de “tahara”, que se refere a um conceito de purificação. Isso envolveria, portanto, a remoção de parte do aparelho genital como considerado “sujo” no sentido de impedir o estado de pureza em que o muçulmano deve se encontrar no momento em que realiza determinados atos ou vive alguns momentos de particular significado religioso. O fenômeno é, portanto, afetado por todas as condições psicológicas e sociais que levam uma comunidade a se tornar rígida em suas práticas defensivas na presença de um risco percebido: aqui, na era da COVID, após 30 anos de diminuição contínua, foi testemunhada uma retomada dessa prática, juntamente com uma redução dos limites de idade aos quais as meninas são submetidas (no Mali chega a afetar meninas de dois anos ou menos). Isso envolve sérias dificuldades em encontrar as vítimas e, ainda mais, no desenvolvimento de ferramentas de resposta – ou prevenção – capazes de quebrar um fenômeno que agora é considerado como não tendo nada a ver com religião, mas com práticas e superstições enraizadas no tempo.
Em particular, o fenômeno provavelmente está ligado ao rito de passagem, típico do difícil momento de transição entre a juventude e a idade adulta.
Compromissos com a mutilação: a resposta global necessária
Um ponto de viragem de grande importância, que diz respeito tanto ao reconhecimento dos direitos humanos como à dignidade específica das mulheres e à sua integridade física, é o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres em África (o chamado “Protocolo de Maputo”) da União Africana, datado de 2003. O documento tem uma profunda função e importância, apesar da ausência entre os signatários de grandes atores do continente africano como Egito e Marrocos.
O Protocolo baseia sua eficácia e legitimidade em diversas fontes, as quais são referidas nas considerações preliminares:
Em primeiro lugar, o artigo 66 .º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que prevê a adoção de protocolos ou acordos especiais em caso de necessidade, para implementar as disposições da Carta,
Em segundo lugar, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana em Adis Abeba, em 1995, que ratificou a recomendação da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para elaborar um Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África,
No artigo 2 .º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que proíbe todas as formas de discriminação, portanto também com base no género, ou qualquer outra situação discriminatória.
Este protocolo, que possui 32 artigos, tem a importância fundamental de constituir uma obrigação efetiva e real para com os países ratificantes: o compromisso é fazer com que as diversas legislações, por meio das devidas reformas do direito interno, reconheçam direitos fundamentais como a dignidade, a vida, o consentimento efetivo para a celebração do casamento e, principalmente, a eliminação de todas as práticas que consistam em atos lesivos à integridade física e mental. das mulheres, mencionando explicitamente a mutilação genital feminina no Artigo 5.
Este artigo, intitulado “eliminação de práticas nocivas”, prevê que os Estados-Membros “proíbam e condenem todas as formas de práticas nocivas que prejudiquem os direitos humanos das mulheres e sejam contrárias às normas internacionais”, e “tomem todas as medidas, legislativas ou não, para erradicar essas práticas”. , conscientizar todos os setores da sociedade, proibi-los por medidas legislativas combinadas com sanções, proteger as mulheres que correm o risco de serem submetidas a práticas nocivas ou qualquer outro tipo de violência, abuso e intolerância. A regra, portanto, prevê ações preventivas e repressivas.
Na Itália há cerca de 90 mil mulheres submetidas a essa prática. Um número significativo que nos deve fazer refletir sobre a eficácia das ferramentas disponibilizadas, mesmo fora dos territórios maioritariamente islâmicos. Em 2006, a Lei nº 7 (a chamada “Lei Consolo”) introduz novos casos para fortalecer a proteção contra o fenômeno da mutilação. São acrescentados os artigos 583bis, 583b, que preveem uma pena de 4 a 12 anos de prisão, acrescida de um terço se cometida contra menores. O elemento material do crime é a causa da mutilação na ausência de necessidades terapêuticas: evidente, portanto, ainda que não expressa, a referência ao Protocolo de Maputo. Trata-se, portanto, de mais uma forma de internacionalização e homogeneização do direito, neste caso tomada por um país europeu à imitação de um instrumento jurídico africano.
Conclusões
A mutilação genital feminina não deve ser reconhecida como uma instituição legal islâmica nem como uma prática obrigatória dentro de uma comunidade islâmica, mas sim uma relíquia de culturas precedentes e práxis espalhadas por um território que mais tarde se tornaria islâmico e manteria suas antigas tradições. Até o momento, políticas adequadas de aplicação da lei não existem porque os compromissos assumidos por muitos Estados e organizações não encontraram efeito além das declarações solenes. Os instrumentos jurídicos existentes são, na sua maioria, obrigatórios, mas não se revelaram suficientes nem eficazes: há que sublinhar que o que falta não é o instrumento jurídico – que se manifesta no protocolo de Maputo e noutras várias fontes internacionais que, sendo recordado no próprio protocolo, só pode ser reconhecido por todos os signatários -. No entanto, eles não têm capacidade e vontade de cumprir obrigações. Vale ressaltar o ordenamento jurídico sudanês, que desde 2020 pune a mutilação com pena de meros 3 anos de prisão.
Uma forma mínima de proteção contra uma prática que, longe das normas de fé, constitui uma humilhação evidente da integridade psicológica e física das meninas, bem como uma prática incapacitante.